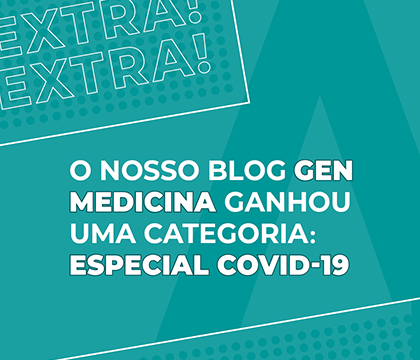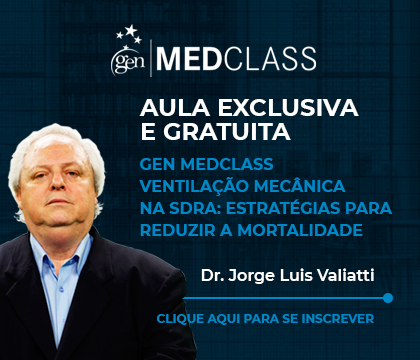Como entender o SUS?
- 7 de jun. de 2018

Por Dr. Gonzalo Vecina Neto – É muito difícil entender o Sistema Único de Saúde (SUS). Por um lado, tem sido muito elogiado em publicações nacionais e internacionais. Com frequência, é citado como o maior programa de atenção à saúde de caráter universal no mundo, com um programa de imunizações impecável, que oferece gratuitamente todas as vacinas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a toda a população brasileira. Também é citado por ter o maior programa de transplantes de órgãos operado pelo poder público (em números absolutos, os EUA têm mais transplantes que o Brasil); ter um programa único no mundo de atendimento a portadores do vírus da AIDS e também por disponibilizar todo o aparato terapêutico aos pacientes gratuitamente. Enfim, tudo indica que é um imenso sucesso. Só que não é.
As pesquisas de opinião revelam que, hoje, no Brasil, o maior problema da população está concentrado no setor da saúde – pior do que em segurança pública, transporte, emprego, habitação e justiça. E a explicação mais rápida identifica o problema na incapacidade de ser universal como determina a Constituição Federal (CF), que, ademais, agrega como princípios a integralidade (prevenção e cura) e a igualdade. No seu artigo 196, a CF deixa claro que a saúde é direito de todo cidadão e dever do estado. Muito já se discutiu se essa universalização deve ser gratuita, mas o entendimento consolidado é que a vontade do legislador, em toda a carta, era de um sistema público universal e gratuito.
São muitas as discussões que se interpõem nessas três palavras, pois também se teima em traduzir público como sinônimo de estatal, o que traz consequências para a questão da eficiência na utilização dos recursos financeiros à disposição do SUS. Também existe a segunda parte do artigo 196, que diz que os objetivos retrocitados devem ser garantidos por meio de políticas públicas. Muitos operadores do judiciário terminam a leitura na vírgula e não se atêm ao que refere às políticas e passam a determinar atos e serviços médicos que têm tido uma imensa capacidade de desestruturar o processo de assistência via judicialização. Estima-se que, no ano passado, somente com essas decisões o Estado brasileiro gastou mais de R$ 7 bilhões.
Mas por que voltar a esse assunto? Nos últimos anos, tem existido uma alucinante rotatividade de ministros na Saúde e talvez eles possam ser classificados em dois grupos: o primeiro e mais raro entende o SUS como um projeto em evolução, que se desenvolve com a sociedade brasileira e tem um conjunto de problemas complexos, que vai do financiamento insuficiente até a má gestão dos recursos escassos, passando por questões relativas ao arranjo interno para ofertar ações de saúde à população e por questões relativas à formação, qualificação e distribuição de profissionais de saúde pelo país. Em particular de médicos, pelo baixo investimento em desenvolvimento científico e tecnológico, pela falta de integração entre as três esferas de poder, pela desintegração entre as áreas de atenção pública e privada etc. Enfim, este grupo considera que o problema é complexo e deve ser abordado de forma dialética e estratégica. O agir simplista e cartesiano só aumentará a ineficiência e a desigualdade.
Desigualdade porque, nesse meio tempo, surgiram propostas do tipo: quem pode paga, ignorando que, apesar de ser um sonho de consumo ter um plano de saúde, ele também precisa ser analisado e entendido (fugir de filas não é ter melhor acesso; todos os sistemas universais do mundo têm filas, só que honestas e gerenciadas), ou então fazer clínicas populares com preços baixos e outras aleivosias que nem merecem ser citadas. O caminho de todas é o mesmo – gerar mais desigualdade.
O segundo grupo dos ditos ministros, que interpretam a realidade de seu jeito, tem apresentado um modelo de debate diferente, frequente nesses tempos de fake news, golpes e contragolpes, alegando que o problema da saúde não é financiamento, mas gestão. Uma coisa não exclui a outra, mas essas pitonisas dão como certo que não há necessidade de dinheiro, só de gestão, e, com um olhar de curtíssimo prazo, passam a gerar soluções absurdas, como mutirões e corujões. Como regra, são operadores de outros setores, que estão de passagem pela saúde e não têm nenhum compromisso com os resultados de seus equívocos.
Muitos foram os eventos organizados pela grande mídia nestes anos em que se discute a questão da saúde, e as conclusões, sempre muito superficiais, rasas mesmo, passam pelo mesmo caminho: é necessária mais gestão antes de mais dinheiro. Ou qualquer outra coisa, menos um financiamento mais adequado. Às vezes, de forma inovadora, alguns desses sábios se lembram da corrupção que deve ser combatida e por onde o dinheiro da saúde escoa.
Aí está o motivo deste artigo: o jornal Folha de São Paulo realizou um debate e publicou em 26/04/2018 um caderno com as suas conclusões. Apesar de ser um texto jornalístico e, portanto, sem a pretensão da profundidade, na capa do caderno declara: “SUS, 30 anos. Subfinanciamento limita a expansão do maior sistema público de saúde do mundo”. Participei de alguma forma de muitos desses debates e, por isso, resolvi resgatar este, que é inédito na conclusão.
O Brasil aplica quase a mesma porcentagem de seu produto interno bruto (PIB) em saúde que os países vizinhos e os da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com a diferença de que, aqui, apenas 43% desse gasto é público, enquanto lá se situa em torno de 70%. Destaca-se que quanto maior o gasto público, mais se pode supor que este gasto seja construtor de igualdade social. Quanto maior a porcentagem de gasto privado, mais se supõe que este ajuda a manter ou aumentar desigualdades. Mas também temos que considerar o gasto per capita: quando calculamos o gasto per capita de um país da OCDE, falamos de uma população menor que a brasileira e com um PIB per capita maior que o nosso. Assim, o PIB per capita gasto em saúde no Brasil é menor que mil dólares, enquanto o PIB per capita gasto em saúde dos países da OCDE situa-se na media entre três e quatro mil dólares. Por isso, o que parecia adequado (porcentagem do PIB aplicado em saúde) revela-se muito discrepante. E até os nossos vizinhos do sul – Chile, Argentina e Uruguai – gastam mais que o Brasil, quando comparados os gastos per capita.
Aliás, o gasto público per capita do Brasil em 2016 foi de R$ 1.190, enquanto o gasto privado, somente com planos de saúde (considerando uma população coberta de 49 milhões de brasileiros), foi de R$ 3.060. E existe muita reclamação sobre atendimentos médicos na rede privada.
O Brasil gasta pouco e mal. Além disso, a qualidade do gasto é ruim e diz respeito à sua fonte, predominantemente privada (57%), e a origem do financiamento público, financiada de forma importante por impostos regressivos.