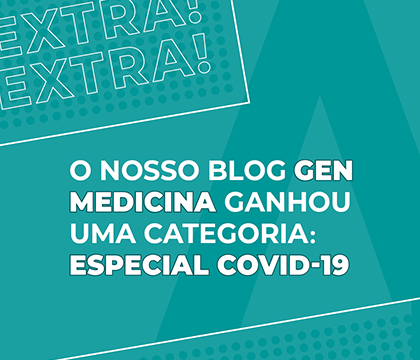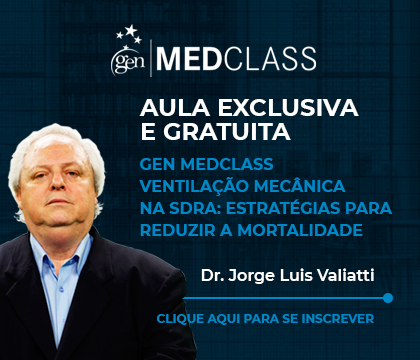Identificar a doença é necessário, mas não é suficiente para bem cuidar de um paciente
- 4 de jun. de 2018

Por Dr. Celmo Celeno Porto – Um bom raciocínio clínico tem duplo objetivo: identificar a doença e conhecer o paciente. Medicina de excelência, aquela que agrada ao paciente e gratifica o médico, é, portanto, a somatória desses dois objetivos.
Como identificar uma doença? Em uma primeira etapa o que devemos fazer é aventar hipóteses diagnósticas consistentes. Na maior parte das vezes, originam-se no correr da anamnese, à medida que o paciente relata suas queixas. Em alguns pacientes, contudo, uma ou mais hipóteses já surgem no momento inicial do encontro clínico, antes mesmo de o paciente dizer uma palavra sequer. A primeira impressão está muito relacionada com o aspecto geral do paciente e os elementos da identificação. Por exemplo: o tipo de choro de uma criança expressa o seu grau de sofrimento, assim como a maneira de andar de um idoso “diz” muito de seu sistema osteomuscular e de seu cérebro.
As características faciais podem nos indicar muita coisa. Há enfermidades que ficam estampadas nitidamente no rosto. Assim, olhos para fora da órbita – sugerem hipertireoidismo; já uma face redonda, classicamente comparada à lua cheia, é indicativa da síndrome de Cushing. A expressão facial pode nos revelar também o que se passa no âmbito emocional do paciente: ansiedade e depressão ficam estampadas no rosto por mais que o paciente queira nos dizer o contrário. Esta impressão inicial é útil, mas não se pode cair na tentação de transformá-la em decisão diagnóstica! É apenas um dado que se vai juntar a inúmeros outros. Hipóteses diagnósticas consistentes precisam do relato do paciente. Aqui está uma boa norma: quanto mais bem feita uma história, mais consistentes serão as hipóteses diagnósticas.
A etapa seguinte é o diagnóstico de certeza que pode depender de exames complementares, sejam laboratoriais, de imagem ou histopatológicos, que precisam ser corretamente escolhidos e bem interpretados. Nada adianta uma bateria de exames se a escolha não tiver sido orientada por hipóteses diagnósticas.
A etapa final é a “decisão diagnóstica”. Como a própria palavra está a dizer, temos obrigação de tomar uma “decisão”, conscientes de todas as suas implicações – clínicas, éticas, legais, psicossociais e econômicas.
Para o paciente, a decisão diagnóstica pode ser um momento de alívio, o início de uma nova etapa de sua vida ou uma sentença de morte! Daí a importância de se saber comunicar ao paciente esta “decisão”. Não existe uma fórmula perfeita para bem cumprir esta tarefa. Nessa hora, adquire especial importância o conhecimento da pessoa que temos diante de nós. Não era esse um dos objetivos do raciocínio clínico? Conhecer o paciente? Por isso, é verdadeira a afirmativa de que “laudos” de exames complementares, quase sempre necessários para um diagnóstico de certeza, devem ser interpretados no contexto de cada paciente.
É bom saber que os doentes leem os laudos de seus exames, tomam conhecimento da descrição de “lesões” ou “disfunções”, mas eles ficam à espera da decisão do médico. Quando o resultado de algum exame contraria suas expectativas chegam a questionar os laudos, transferindo para o seu médico o direito de tomar a decisão final. O senhor tem certeza? Esta é uma pergunta frequente que precisa ser respondida com segurança.
Nas doenças de tratamento difícil, com risco de vida ou de invalidez, devemos avaliar com todo cuidado a maneira de se comunicar um diagnóstico. O diagnóstico de câncer, por exemplo, provoca um verdadeiro “terremoto” pessoal e familiar. Quem sofreu ou teve em sua família um paciente com câncer sabe o que estou dizendo. Em nenhum momento vou defender a “mentira piedosa”, de uso comum, tempos atrás, e, até hoje, ainda sugerida ao médico por algum membro da família. Faz parte das qualidades humanas de um bom médico a “integridade”, ou seja, não mentir, não esconder a verdade, não levantar falsas esperanças, não enganar o paciente nem fazer promessas levianas. Por isso, antes de tudo, temos de ter certeza do que estamos falando.
Enquanto o raciocínio clínico estiver na etapa de “hipóteses diagnósticas” não há vantagem alguma em comunicá-las ao paciente como se tivéssemos expondo nossa maneira de pensar. Os pacientes questionam: “Doutor, o senhor acha que estou com câncer?” Jamais se deve responder: “Eu acho” ou “não acho” nos casos em que isso seja uma possibilidade. A resposta correta é: “Vou investigar e, quando tiver uma conclusão, eu a direi claramente”. O paciente, ao perceber firmeza em nossa resposta vai aguardar a “decisão”. O “acho” ou “não acho” nada significam. Nem para o médico tampouco para o paciente.
O diagnóstico de AIDS, por exemplo, traz à tona não apenas questões clínicas e terapêuticas, mas também questões psicológicas, sociais e culturais. Nesta situação, como em qualquer outra, desde as mais intrincadas às mais simples, uma decisão diagnóstica nunca pode ser abordada de modo apressado, incompleto, leviano. Nos casos em que o diagnóstico permanece no nível do “provável”, embora tenham se esgotado os recursos para sua confirmação, isso precisa ser claramente explicado ao paciente.
Saber conversar com o paciente sobre a doença é um dos momentos cruciais do encontro clínico. Primeira regra: comunicar um diagnóstico não significa dar uma lição de medicina. Explicações minuciosas sobre anatomia, fisiopatologia e anatomia patológica são inúteis; podem ser até perniciosas, pois confundem o paciente, desencadeiam dúvidas e provocam ansiedade. Temos de escolher o que informar e como fazê-lo.
O modo de comunicar um diagnóstico de doença grave ou de um tratamento difícil faz parte da arte clínica. A escolha das palavras, evitando-se ao máximo termos científicos, é fundamental para a boa comunicação, cuja característica essencial é estar no nível de compreensão do paciente.
O médico vai aprendendo a conhecer as expectativas do paciente e seu grau de ansiedade. Dizer a verdade é essencial, mas a verdade pode ser dita de muitas maneiras, e nem sempre é necessário dizer, de imediato, “todas as verdades” contidas em um diagnóstico. Nesta hora, explicações estatísticas devem ser dispensadas, porque o paciente é uma individualidade e não um componente de um ensaio clínico. Se ele tiver um tipo de câncer com 30% de possibilidade de cura, a única coisa que interessa “à pessoa” que temos diante de nós é que ela está dentro dos 30%; então, basta dizer-lhe: “Há possibilidade de cura”. Se, por outro lado, quisermos transmitir mais otimismo: “Há grande possibilidade de cura!”. O resto é absolutamente secundário para o paciente.
Se arte clínica é levar para cada paciente a ciência médica, naquele momento a verdadeira arte é alimentar as expectativas positivas do paciente. Isso vai ter grande influência nas suas condições psicológicas, aliviando a ansiedade natural deste momento, o que reforça sobremaneira a relação médico-paciente, um dos fatores que mais influem na adesão ao tratamento. Influi também no sistema imunológico do paciente, reforçando seus mecanismos de defesa. Temos de ter consciência de que todo o sucesso do médico pode depender de uma palavra correta. Uma palavra inadequada pode provocar desagradáveis consequências.
A conversa sobre a doença sempre provoca indagações prognósticas e de outras naturezas, tais como: Esta doença é grave?, Esta doença pega?, Qual o tipo de tratamento?, Preciso me afastar do trabalho?, Por quanto tempo?, Preciso ser internado(a)?, Vou ficar curado(a)?, Tem risco de vida?, Tem certeza que o diagnóstico está certo?, Será que estes exames estão certos?, Este tratamento é muito caro?
Em síntese, só exerce uma medicina de excelência quem consegue duas coisas: identificar a doença e conhecer o doente. Mais ainda: quando o médico sabe se comunicar com o paciente, é estabelecido o que se chama aliança terapêutica.
Conheça a GEN MedClass do Prof. Porto:
GEN MedClass - Exames Clínicos e os Avanços Tecnológicos